 Título original: The Gift Of Anger
Título original: The Gift Of Anger
Título em português: A Virtude da Raiva
Autor: Arun Gandhi
Tradutora: Débora Chaves
Editora: Sextante
Copyright: 2017
ISBN: 978-85-431-0537-6
174 páginas
Gênero: Autoajuda
Bibliografia do autor (incompleta): Legado de Amor, 2014; The
Forgotten Woman, 1981; Meu Avô Gandhi, 2014; Daughter of Midnight, 1998.
Autoajuda:
um gênero detestado e rentável. Livros deste tipo são aqueles reconhecidos como
os que vendem horrores. Entretanto, mais recentemente, minhas tantas leituras
me dizem o seguinte: há livros de autoajuda muito diferentes entre si. O
conceito é elástico demais. Assim, na minha visão, a Bíblia é autoajuda,
literatura pode ser autoajuda, seguindo esta tendência da obra Farmácia
Literária, de Ella Berthoud e Susan Elderkin. Nenhuma dúvida; nós, os que lemos
muito, sabemos da importância de um livro certo lido num momento correto. E gostei
muito deste A Virtude da Raiva. Achei a proposta de transformar o sentimento da
raiva em algo potencialmente bom, um impulso para realizar coisas muito
apropriadas. Sim, porque esse negócio de dizer que não devemos sentir raiva, não
devemos dar acolhida a este sentimento destruidor, me parece assim meio quixotesco. Ora,
somos animais irritáveis, não há como não ter raiva pelo menos alguma vez na
nossa vida. Transformar, neste caso, me parece mais factível do que evitar. E outra
coisa que gostei demais no livro: ele me trouxe o Mahatma Gandhi bem para
pertinho de mim, me deu um panorama de como este fantástico homem pacifista
pensava. A não violência gandhiana não era só não brigar com alguém, ser
grosseiro. É também não se deixar levar pela raiva, transformando-a em algo
bom. Não imaginava.
Arun Manilal Gandhi nasceu em 1934.
É neto de ninguém menos que Mohandas Gandhi e cresceu num ashram (uma espécie
de local para retiro espiritual) na África do Sul. Viajou para o ashram de
Gandhi ainda menino, quando sua família foi visitar o parente ilustre. Aprendeu
a filosofia de não violência diretamente da fonte e no livro parte deste
convívio é narrada. Depois de adulto, viajou para os Estados Unidos para o
lançamento do filme Gandhi, de Richard Attenborough, com Ben Kingsley no papel
principal. À época, ele ficou sabendo que o filme havia custado vinte e cinco
milhões de dólares ao governo da Índia. Escreveu um artigo, posicionando-se
contra tal custo, argumentando que este dinheiro seria melhor gasto se aplicado
para ajudar muitos indianos pobres.
Entretanto, quando assistiu o
filme, mudou de ideia. Apesar de algumas infidelidades, no todo o filme dava
uma ideia muito boa sobre seu avô, prestando-lhe uma justa homenagem e mais que
isso, levando a pessoas do mundo inteiro a filosofia da não violência.
Gandhi, todos sabemos, foi um dos
grandes personagens da independência da Índia, que pertencia ao jugo inglês. Gandhi
ganhou notoriedade exatamente por enfrentar as autoridades inglesas de peito
aberto, mas sem ser violento. Não deu um tiro sequer. E acabou influenciando
cabeças como as de Martin Luther King, Nelson Mandela e a famosa série
televisiva de ficção científica, Jornada Nas Estrelas (Star Trek).
Num tom bastante descontraído, é
assim que Arun começa o prefácio do livro:
“Estávamos indo visitar vovô. Para
mim, ele não era o grande Mahatma Gandhi que o mundo reverenciava, mas apenas “Bapuji”,
o avô afetuoso de quem meus pais sempre falavam. Sair de nossa casa, na África
do Sul, para ir visita-lo na Índia era uma longa jornada. Tínhamos acabado de
enfrentar uma viagem de 16 horas num trem lotado que paratira de Mumbai,
apertados numa cabine de terceira classe que fedia a cigarro, suor e fumaça do
motor a vapor da locomotiva. Estávamos todos cansados quando o trem resfolegou
na estação de Wardha. Foi bom me livrar do pó de carvão, descer na plataforma e
respirar ar fresco.” (página 9)
E, um pouco mais adiante, ainda no
generoso prefácio, ele começa a traçar o perfil do avô famoso:
“O exemplo de não violência do meu
avô nunca teve a ver com passividade ou fraqueza. Na realidade, ele considerava
a não violência uma forma de nos tornarmos mais fortes em termos morais e
éticos e mais capazes de avançar em direção a uma sociedade com mais harmonia. Quando
estava promovendo as primeiras campanhas de não violência, ele pediu que o ajudassem
a sugerir a palavra sânscrita sadagraha,
que significa “firmeza em uma boa causa”. Bapuji gostou, mas decidiu modifica-la
um pouco e transformá-la em satyagraha,
ou “firmeza para a verdade”. Posteriormente, o termo passou a ser traduzido
como “força da alma”, o que nos lembra que a verdadeira força vem do cultivo
dos valores corretos na busca da transformação social.” (páginas 12/13)
Gandhi não se considerava perfeito,
mas não se deixava iludir pela fama a ele atribuída. Por onde passava, uma
multidão o acompanhava, sequiosa de suas palavras. Entretanto, nem sempre fora
assim. Gandhi formou-se como advogado, trabalhando em Londres, vestindo ternos
cortados sob medida, com caimento perfeito. Um dos muitos casos aconteceu num
trem:
“Alguns anos mais tarde, depois de
se mudar para a África do Sul, precisou pegar o trem noturno para Pretória por
causa de um dos casos em que estava trabalhando. Entrou no vagão de primeira classe com o bilhete
correto, mas um homem branco alto e grosseiro reclamou de sua presença ali.
— Saia daqui, cule – gritou o
homem, usando um insulto racista da época.
— Tenho um bilhete válido de
primeira classe – respondeu meu avô.
— Não me interessa o que você tem. Se
não sair, vou chamar a polícia.
— Esse é um privilégio seu – retrucou
meu avô, que se sentou calmamente, sem
intenção de ir para o vagão de terceira classe, reservado para não brancos.
O homem saiu do trem e voltou com um policial e um funcionário da viação
férrea. Os três literalmente jogaram vovô para fora do trem.” (página 36)
Arun relaciona dez lições a seguir,
que vão configurar a filosofia de não violência:
- Use a raiva para o bem;
- Não tenha medo de expressar sua
opinião;
- Aprecie a solidão;
- Conheça seu valor;
- Mentiras levam a mais mentiras;
- O desperdício é uma violência;
- Eduque seus filhos sem violência;
- Humildade é força;
- Os cinco pilares da não violência:
- Respeito.
- Compreensão.
- Aceitação.
- Apreciação.
- Compaixão.
- Você será testado.
O autor explana cada uma destas dez
lições, fazendo comparações com os dias de hoje. Critica, por exemplo, o uso
exagerado que se faz dos smartphones, apontando que as famílias vão perdendo o
prazer de estarem juntas, numa refeição, sentadas à mesa e podendo cada uma
contar suas histórias.
O livro relaciona, também os “sete
pecados sociais”, segundo Gandhi:
- Riqueza sem trabalho;
- Prazer sem consciência;
- Comércio sem moral;
- Ciência sem humanidade;
- Conhecimento sem caráter;
- Devoção sem sacrifício (não de
animais, mas de riqueza);
- Política sem princípios.
Ainda quero incluir, nesta resenha,
duas passagens que me deixaram bastante propenso a reflexões (vou reler este
livro). A primeira é sobre como enfrentamos as injustiças. Comentando aquela
passagem de seu avô ter sido retirado à força do trem, na África do Sul, por
ele não ter cedido à imposição do homem branco do avô transferir-se para a
terceira classe, Arun anota:
“Mas, quando contou aos outros indianos
o que tinha acontecido, muitos simplesmente deram de ombros. Se as pessoas
brancas não o queriam na primeira classe, por que ele simplesmente não se mudou
para o outro vagão?
— Porque é injusto – repetiu Bapuji.
– Não podemos nos submeter e aceitar a injustiça.
Mas as reações apáticas também
fizeram com que ele percebesse que “ninguém nos oprime mais do que nós mesmos”.
Paramos de perceber as injustiças que sofremos e que são infligidas aos outros.
Preocupados com nossa vida cotidiana e com o desejo de seguir em frene, paramos
de prestar atenção. Comportamentos que deveriam causar indignação começam a nos
parecer normais.
Bapuji nos diria que todo mundo
precisa acordar imediatamente para as desigualdades e injustiças do mundo. Não temos
que aceitar o preconceito. Precisamos lutar em todos os níveis. Ao encorajar as
pessoas a agirem, no entanto, Bapuji reconhecia que não adianta combater o ódio
com ódio e raiva com raiva. Isso apenas multiplica os próprios problemas que
queremos eliminar.” (página 158)
A segunda passagem, igualmente
importante, toca a psicologia humana de grupo:
“Psicólogos descobriram que, quando
as pessoas são designadas aleatoriamente para um determinado grupo, elas
imediatamente o elegem e afirma que ele é melhor do que os outros. Isso vale
independentemente de quão desimportante seja a distinção. Dê a algumas pessoas
uma camiseta vermelha e a outras uma camiseta azul e veja as alianças se
formando.” (página 163)
Esta última questão é extremamente
importante para ser examinada no processo eleitoral pelo qual passou o Brasil. Sem
dúvida foi a eleição mais bipolar da história deste país. E, tomando pela mão o
enunciado acima, cada grupo mergulhou numa violência, num ódio de assustar. Famílias
até então unidas se desuniram por questões partidárias; amigos antigos romperam
relações por diferença de apoio a candidatos; uns chamando a contraparte de
burros.
A leitura deste A Virtude da Raiva nos alerta para
trabalharmos melhor este impulso primário. Admitamos sua existência; transformemo-lo
depois. A raiva não trabalhada nos transforma em loucos momentâneos. É preciso
não deixarmos isto acontecer.
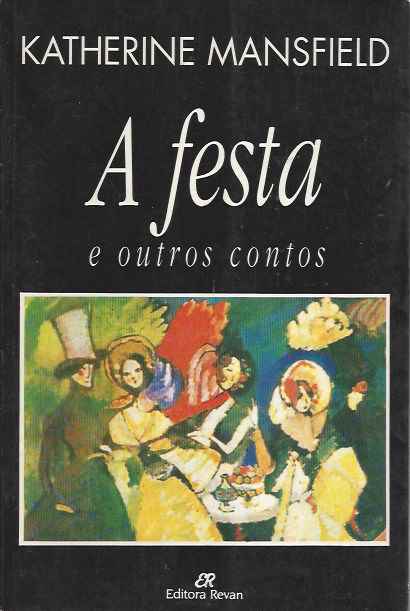
![Rua do Odéon por [Monnier, Adrienne]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51bwhxCVMaL.jpg)






